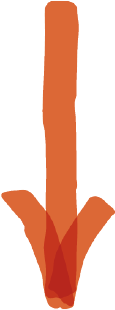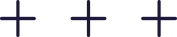Categoria: Desgraçamento Mental ||| por Adriana Cecchi



Será que estamos vivendo ou apenas cumprindo funções dentro de um protocolo social?
O ponto de partida deste questionamento veio com Apples, filme grego de 2020 e o primeiro longa-metragem de Christos Nikou — que já trabalhou como assistente de direção de Yorgos Lanthimos em Dente Canino. Cinema grego tudo para mim ❤.
Apples foi selecionado pro Festival de Veneza, exibido no Festival de Toronto e é uma pérola pouco comentada recheada de vazio existencial e vazio em confronto consigo mesmo. A premissa é bastante impactante: uma pandemia mundial que causa amnésia repentina. Sim, é isso mesmo que você leu.
Áris, interpretado pelo Áris Sérvetális, sai um dia de casa, pega um ônibus, chega no ponto final do trajeto e não se lembra mais de nada. Não lembra de onde é nem para onde vai, como as pessoas dizem no filme: ele esqueceu.
Os casos de esquecimento repentino estão aumentando, uma epidemia de amnésia súbita que acomete as pessoas e que até o momento não tem cura — pelo menos nenhum paciente recuperou a memória até então.
Sem documentos, Áris é levado ao hospital para ser amparado, como acontece com muitos na mesma situação, até que familiares procurem por essas pessoas e voltem pra casa. Mas ninguém procurou por Áris, ele não foi identificado. Recebe auxílio dos médicos, entre medicação e alguns testes ali para avaliar o progresso da memória, ou melhor, da falta dela.
Sem nenhum parente próximo, Áris entra num programa do governo chamado Nova Identidade, cujo intuito é reinserir os pacientes na sociedade. Recebem todo o suporte, como moradia, roupas e dinheiro para principais despesas. Além disso, ganham também uma câmera Polaroid e um gravador com lições diárias — tarefas que todos os integrantes do programa precisam cumprir e em seguida fotografar para registrar cada momento. Simbolicamente, todas as fotos são colocadas num álbum e marcar memórias. Aí aproveito para mais perguntas:
Somos aquilo que vivemos ou aquilo que lembramos que vivemos? O que significa, de fato, experienciar uma vivência?


Quem estiver a fim de encarar emoções à flor da pele, da angústia à destruição psicológica: Butcher Boy: Infância Sangrenta, do Patrick McCabe, publicado pela Darkside Books.
Já falei sobre The Butcher Boy no canal no primeiro vídeo de filmes para destruir o psicológico, cheguei a comentar sobre o livro que inspirou a adaptação e pedi socorro pras editoras — o livro tinha sido publicado no brasil com o título de Nó Na Garganta, mas estava esgotado há anos. Na época, consegui uma troca de sebo e li. BAQUE! Nunca trouxe conteúdo sobre porque ninguém teria como ler ou comprar porque não dava pra encontrar. Darkside Books resolveu isso pra gente!

Publicado originalmente em 1992, Butcher Boy: Infância Sangrenta é considerado um clássico moderno da literatura irlandesa. Um livro destemido, chocante, perturbador e estranhamente cômico — assim como o seu personagem central, nosso narrador, Francis “Francie” Brady. Um garoto de 12 anos de idade cujas ações são impulsionadas por vários fatores críticos: condição familiar, classe social, desesperança generalizada, período caótico de uma Irlanda no final dos anos 50/início da década de 60 e o impacto histórico desta pequena comunidade paranoica e relapsa em que o Francie vive.
“Quando eu era moleque uns vinte ou trinta ou quarenta anos atrás morava numa cidadezinha onde todo mundo tava atrás de mim pelo que eu tinha feito com a dona Nugent.”

No primeiro parágrafo do livro, a gente entende que Francie aprontou alguma coisa para tal da dona Nugent. E logo nesse início do livro percebe-se o conflito entre ela e o garoto, na verdade, com toda a família Nugent, já que o desalinho começa por conta do filho dela, o Phillip Nugent, que teve seus gibis roubados pelo Francie.
Mas vai ser no momento em que a Sra. Nugent se refere ao Francie como porco, pertencente a uma família de porcos, é o estalo na cabeça dele para encarnar essa figura pra ela. Do tipo: ah, vai me chamar assim? Então eu vou te mostrar como que é. O fato torna-se a origem de uma obsessão e é a partir disso que se constrói o arco-narrativo e fixação desse personagem enquanto um “monstro”.
De modo geral, Francie SEMPRE está aprontando ou armando alguma coisa com seu amigo Joe. Sabe aquelas narrações de filme de sessão da tarde essa duplinha do barulho fazendo travessuras e aprontando de montão? São eles. Porém o Francie cruza uma linha muito delicada e tênue da brincadeira e da prudência. O sentimento é parecido com o de uma pessoa que faz uma piada de muito mau gosto e ninguém ri, só ela.
A infância normalmente é relacionada a inocência, certo? Ao longo de sua jornada, Francie vai se despindo dessa nuance infantil — ele habita uma infância envolta em tragédia — cada vez mais transformando-se em uma “criatura” doentia e sem controle aos olhos dos demais. Francie é uma vítima de seu ambiente e também de sua desordem.
O que é um reflexo direto do contexto histórico em que o livro foi escrito e como as crianças e suas infâncias da época também eram caçadas pelos traumas que atingiram o momento político do país. Sempre reforço que toda arte ganha outro patamar quando analisada dentro do contexto político em que foi criada. Muito difícil algo ser gratuito, a toa, não ter motivo… A base é sempre a histórica.


“Às vezes, tudo o que você precisa é permissão para sentir.”
O que significa a solidão? Como vivemos sem estar envolvidos intimamente com outro ser humano? Como nos conectamos a outras pessoas? A tecnologia nos aproxima ou nos aprisiona atrás de telas?
Quando se mudou para Nova York, aos trinta e tantos anos, Olivia Laing se tornou uma habitante da solidão. Cada vez mais fascinada com essa experiência das mais vergonhosas, ela começou a explorar a cidade solitária por meio da arte. Movendo-se com fluidez entre obras e vidas – de Nightwalks de Edward Hopper às Time Capsules de Andy Warhol, da acumulação de Henry Darger ao ativismo de Aids de David Wojnarowicz –, Laing conduz uma investigação admirável, deslumbrante, sobre o que significa estar sozinho, iluminando não apenas as causas da solidão, mas também como se pode resistir a ela ou se reconciliar com ela.
Humano, provocativo e profundamente comovente, A cidade solitária, uma inteligente mistura entre pesquisa bem fundamentada e depoimento pessoal da autora, reflete sobre os espaços entre pessoas e coisas que as unem, sobre sexualidade, mortalidade e as possibilidades mágicas da arte. É uma celebração a um estado estranho e encantador, isolado do continente maior da experiência humana, mas intrínseco ao próprio ato de estar vivo.


TRECHOS E FRASES DE A CIDADE SOLITÁRIA
“Você pode ser solitário em qualquer lugar, mas há um sabor particular na solidão quando se mora numa cidade grande, cercada por milhões de pessoas. Pode-se pensar que esse estado seria antitético em relação à vida urbana, à presença em massa de outros seres humanos, mas a mera proximidade física não é suficiente para dissipar uma sensação de isolamento interno. É possível – e fácil – sentir-se desolado e abandonado ao lado de outras pessoas.” (p.11)
“Assim como a depressão, como a melancolia ou a inquietude, a solidão está sujeita também a uma patologização a ser considerada uma doença.” (p.12)
“O dicionário, esse árbitro frio, define a palavra solitário como um sentimento negativo invocado pelo isolamento, sendo o componente emocional o que diferencia de sozinho ou só.” (p.28)
“Mas a solidão não tem necessariamente correlação com uma falta de companhia externa ou objetiva, o que psicólogos chamam de isolamento social ou privação social. De modo algum todas as pessoas que vivem suas vidas na ausência de companhia são solitárias, enquanto é possível experimentar uma solidão aguda estando num relacionamento ou num grupo de amigos.” (p.29)




















 Entretenimento, paranoias e crises existenciais. Formada em Audiovisual, redatora e uma das autoras do livro Canções do Caos - Vozes Brasileiras. A paixão por cinema, literatura e caos foi fundamental na criação do Redatora de M*%$# que, desde 2009, levanta questionamentos e “desgraçamentos” através de arte e realidade.
Entretenimento, paranoias e crises existenciais. Formada em Audiovisual, redatora e uma das autoras do livro Canções do Caos - Vozes Brasileiras. A paixão por cinema, literatura e caos foi fundamental na criação do Redatora de M*%$# que, desde 2009, levanta questionamentos e “desgraçamentos” através de arte e realidade.